Sessenta anos depois, na trégua dos inevitáveis lapsos da memória, a lembrança houve de recordar-me da viagem debaixo de chuva no jipinho verde Willys Overland 1951, conduzido por meu avô materno, Joaquim Miguel da Silva. É quando me lembro dele pela primeira vez na vida, como um quase-anjo sereno e protetor.
Éramos quatro passageiros – eu e minha mãe, Jeni, a caçula de dez irmãos, no auge da juventude; a prima Irany, contemporânea de minha mãe, e sua filha Sandra, mais ou menos de minha idade (quatro anos). Havíamos deixado Iepê, no lado paulista, a poucos quilômetros do rio Paranapanema, cuja travessia fizemos em balsa presa a cabos de aço que iam de uma margem a outra, adentrando o Estado do Paraná por Alvorada do Sul. Em seguida passaríamos por Porecatu e Centenário do Sul, para irmos além uns trinta quilômetros, pernoitar na residência de Tia Zulmira, às margens do pedregoso, encachoeirado e piscoso rio Rondon, afluente do Paranapanema. A casa ficava a cerca de cem metros do maior salto daquele curso natural de água, abaixo do qual formava um grande rebojo, ótimo para banhos e pescarias.
A estrada era de terra, lamacenta, escorregadia e, para usar uma expressão da época, chovia a cântaros. Os ziguezagues e solavancos da condução sob o aguaceiro incessante assustavam minha mãe, espremida entre eu e a inquieta Sandra, no diminuto compartimento traseiro do jipe. À frente, no banco do carona, com ar de preocupação, a acionar a todo momento o limpador manual do pára-brisa, ia a prima Irany, uma das filhas mais velhas de Tia Zulmira, que por sua vez estava entre os primeiros filhos do vô Joaquim (devido a isso, Irany foi uma espécie de sobrinha-irmã de minha mãe e até sua colega de escola, nos antigos tempos de Iepê, se não estou mal informado). Já o vô Joaquim, ao volante, não aparentava temor nem ansiedade. Embora concentrasse a atenção no caminho difícil, fazia comentários sobre assuntos diversos, sem se importar com o dilúvio lá fora, a martelar a capota de lona do valente veículo, que possuía tração nas quatro rodas e até reduzida, para situações cascudas.
Não sei onde nem quando, talvez acalmado pelo aspecto tranquilo do motorista, peguei no sono e, ao acordar, aprontei o maior berreiro. Sandra, a espertinha, tinha comido o doce que eu levava escondido, para consumir em ocasião oportuna. Mas o tempo continuava ruim, estávamos longe de tudo, e não tive outra alternativa a não ser secar as lágrimas e contabilizar o irreparável prejuízo.
Chegamos ao escurecer à primeira escala de nossa viagem. Na manhã do dia seguinte, esquecido dos sustos e da frustração da véspera, ri muito com as brincadeiras dos primos Anderson e Geliade (irmãos de Irany), que se agarravam e estapeavam no terreiro, e até ganhei um doce de leite, que tratei de comer logo, por precaução. Após o almoço, com frango caipira na panela de ferro, que saiu cedo, à mineira, seguimos para Lupionópolis, onde meu avô fez compras, e de lá fomos para a casa dele, em sítio situado na margem direita do rio Sururu, o qual juntava-se ao Juruna e também corria para o Paranapanema.
A viagem terminou, mas em minha mente ficou gravado de modo indelével a figura de meu avô. No ano seguinte, por motivo de dificuldades econômicas de meu pai, que era tropeiro, e estudo de minha mãe, que se preparava para o magistério, foi necessário deixarem-me sob a guarda de meus avós maternos. Tive então o privilégio de viver debaixo do mesmo teto com meu progenitor, o qual, mesmo sendo bastante reservado, à noite, nas rodas de conversa, perto do fogão caipira, contava “causos” sobre pescarias, caçadas e outras aventuras como ninguém. Todos quedavam-se a ouvir seus relatos com curiosidade e interesse, pois ele era excelente contador de estórias.
Sei que ele descendia de indígenas pelo lado materno e de colonos portugueses pelo paterno. Ouvi, de muita gente, referências à sua notável inteligência, e minha avó paterna (Josefa) disse-me um dia que ele foi um moço muito bonito. Desbravador de sertões, além do trabalho duro no cabo de machado e enxada, tocava viola e cantava, em rodas de catira ou cateretê. Possuía alma de poeta e compôs muitos versos que, infelizmente, porque não foram escritos, não deixaram registro à posteridade. Consta que aprendeu a ler na Bíblia Sagrada, ao converter-se ao protestantismo (tornou-se membro da Igreja Presbiteriana Independente). A partir daí, por decisão pessoal, deixou a carreira de catireiro e pendurou a viola na parede para nunca mais a dedilhar. Eu mesmo jamais o vi ou ouvi tocando a bendita.
Casado com Maria Correia da Silva, com quem teve dez filhos – João Miguel, Guilhotilde (Nenê), Lídia, Zulmira, Benedito, Aurora, Luiz, Gomercindo (Gome), Jovina (Jovem) e Jeni -, arrisco dizer que hoje sua descendência já alcança seis gerações e várias centenas de pessoas. Ficou-me a vaga idéia de que ele era irmão do Cáti, pai do escritor Leoni Ferreira da Silva (uma das nossas glórias familiares), logo tio deste. Lembro que o Leoni foi uma vez ao Sururu e deu ao vô Joaquim um exemplar do livro O Caboclo Remanescente, onde narrou a saga da colonização da região de Assis (SP) e homenageou o próprio pai.
Mineiro de Santa Rita do Passa Quatro, Joaquim Miguel da Silva viveu até os oitenta e um anos de idade – posso estar enganado, mas com certeza passou dos oitenta. Ele faleceu de ataque cardíaco fulminante, assistido pela filha caçula, Jeni, que pouco ou nada pode fazer. Ela, também hoje já falecida, contava que seu pai estava sentado em um sofá, apenas suspirou e tombou de lado, e assim se foi, sem dizer um ai.
Bem do jeito dele. Quero crer que ele ganhou o direito de tocar de novo sua viola, cantar e dançar o catira nos saraus celestiais, porque já havia se imposto uma longa abstenção aqui na terra. Quanto a contar estórias, nunca foi proibido, por isso ainda espero o reencontrar para pedir bis daquele causo da mulher e da criança doente que foram, em noite escura e à luz de lamparina, buscar remédio na casa de um vizinho distante – na manhã seguinte, ao retornarem pelo mesmo caminho, encontraram rastros colossais de uma onça sobre suas próprias pegadas – o animal as seguira na noite anterior e somente por milagre não as atacara.
P. S. – A prima Dielze de Almeida Rosa (outra filha de Tia Zulmira) escreveu sobre qual seria sua melhor recordação de nosso avô Joaquim. A belíssima e singela crônica está publicada neste blog, sob o título MEMÓRIAS DE JOAQUIM MIGUEL DA SILVA (ll) e revela não somente os atributos do patriarca em questão, mas a afinidade de seus descendentes com a tradição de serem bons contadores de estórias, como é o caso da Dielze.
 |
| Joaquim Miguel da Silva e Maria Correa |
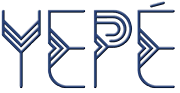




Sem comentários